Parasita, filme de Bong Joom-ho. Crédito: reprodução
Por Pedro MC*, especial para a Revista Gulliver
Ninguém imaginava a dimensão. Chegou como uma bomba que implode em sequências. As salas de cinema Multiplex estão fechadas. A experiência compartilhada de um filme como a gente conhecia, presencialmente, não existe mais. Tampouco se sabe quando vai voltar.
A resposta da Secretaria de Cultura do atual Governo Federal é um silêncio assustador. No front, a batalha jurídica pela manutenção do Fundo Setorial, que mesmo com verba, não investe.
Com a quarentena como solução para diminuir o impacto da pandemia, um fenômeno em rede começou a eclodir: o do compartilhamento de conteúdo, liberado por autores e plataformas, como Petra Belas Artes e SPCine Play. Bonito de ver.
Como programador da sessão Cinemática, que acontece todos os meses na Sala de Cinema do CIC (única sala pública de Santa Catarina), fui convidado a elencar dicas de filmes que estão na linha pela jornalista Dariene Pasternak, então editora do Notícias do Dia.
Montei uma lista de sugestões de filmes e links para blogs de cinéfilos. Não imaginava a dimensão estatística da matéria. Segundo indicadores do jornal, está entre as cinco mais acessadas e compartilhadas do Estado, atrás apenas das notícias sobre Covid-19.
Evidente que o alcance de quase meio milhão de leitores da matéria com sugestões de filmes abertos na internet é termômetro da importância do audiovisual. Não só durante a quarentena é importante. Os dados de consumo de vídeo e assinantes de plataformas no Brasil figuram entre os maiores do planeta.
Sabendo disso, busco neste artigo para a Revista Gulliver refletir sobre esses dados. O Brasil é um grande mercado de audiovisual, mas tem pouca produção e o que tinha está parada.
Por isso vou voltar dois meses atrás, quando ainda existia programação de sala de cinema, e adiciono a discussão acerca do seriado da Amazon Prime, rodado em Florianópolis, para refletir hoje sobre uma conversa com Nelson Pereira dos Santos que tivemos em 2012, na UFSC. Durante o lançamento de seus dois filmes sobre Tom Jobim, um deles rodado em Florianópolis, Nelson declarou: “vocês têm tudo para virar um polo de produção. Tem talentos, universidades, sindicatos. Tem praia, montanhas, cidades, campo, neve, mar. Vocês estão prontos para em Santa Catarina fazer muitos filmes.”

Realmente estamos prontos, mas os governos que passam não ajudam. E há quem defenda que o incentivo ao cinema deveria ser somente da iniciativa privada. Pois bem: em janeiro, fizemos o Ciclo Necropolíticas na Sala do CIC, com três filmes que se interligam pelos temas: Joker, Bacurau e Parasita. Frequento desde os anos 1980 o CIC e nunca vi tanta gente junta para disputar entrada em sessões de cinema.
Um dia antes da exibição de Parasita saiu a indicação recorde do Oscar para o filme coreano. Implodiu a expectativa. Tivemos que chamar a polícia militar para segurar a onda das pessoas. Tive uma crise de ansiedade e claustrofobia no corredor.

Isso há três meses. Impensável hoje. Interessante foi ter feito na semana seguinte a Mostra Godard, com uma maratona de 200 horas de filmes. E muito público veio porque conheceu a programação da sala de cinema do CIC em razão do sucesso de Parasita.
Com o fenômeno do cinema coreano surgiram dezenas de teorias. De repente, especialistas em mercado de cinema asiático pipocaram nos blogs e canais de conteúdo. Como eu já estava envolvido, antes do filme de BongJoon-ho quebrar a marca histórica de melhor filme da galáxia, na pré-produção de um Festival Cinema Coreano, pesquisei um pouco sobre como projetos com roteiro tão aprimorados esteticamente ganham incentivo lá: será que é “autorregulação” do mercado ou tem apoio público?
Não tenho respostas. São pontos de vista. No meu, o Brasil é um país que não se libertou do seu passado colonial, em todos os sentidos. Vou procurar dar um exemplo prático do colonialismo presente no mercado de audiovisual, após a conversa que tive (leia a seguir) com três convidados especiais: Alfredo Manevy, que foi presidente da empresa pública SP Cine e secretário de relações institucionais do extinto Ministério da Cultura; a cineasta Marcia Paraíso, que tem vasta experiência de conteúdo para TV e é diretora de Submerso, primeiro seriado do estúdio Paramount no Brasil (e rodado parte em Florianópolis); e Leticia Friedrich, sócia fundadora da Boulevard Filmes, há 10 anos no mercado de filmes autorais e conteúdo.
Fiz uma pergunta genérica para os três e outra específica para cada um. Após a conversa, compartilho minhas considerações sobre o seriado Soltos em Floripa, da Amazon Prime, lançado em março de 2020.
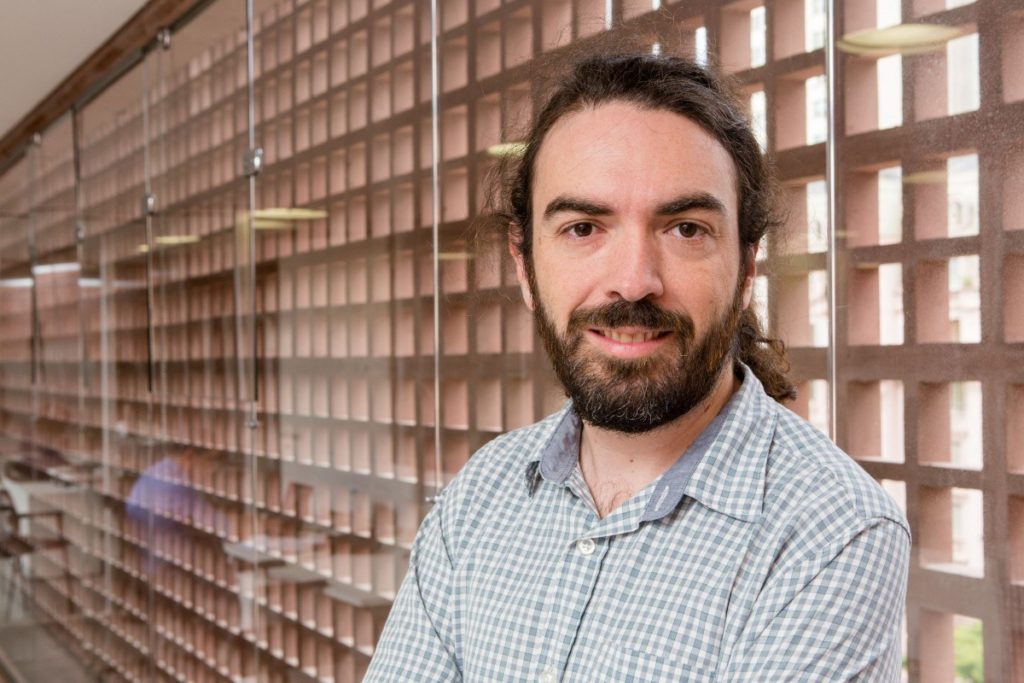
Como o incentivo à produção audiovisual no nosso país, via iniciativa privada ou com apoio estatal, poderá apoiar projetos com apuro estético e de experimentação, tais como são feitos na Coreia do Sul, após o período de crise da pandemia?
ALFREDO MANEVY – Vivemos uma crise atual tão forte — um ataque tão violento à política do audiovisual e suas leis – que perdemos de foco a questão que você trouxe, mas ela é necessária. E especialmente quando essa crise acabar, será o caso de recolocá-la para os agentes públicos.
A Ancine deu passos extraordinários na construção das políticas audiovisuais, e sem dúvida a valorização do roteiro foi um passo fundamental por meio dos laboratórios e outras ações. Mas isso não foi o suficiente para uma guinada ainda maior em favor de uma primazia dos bons roteiros. A pontuação da produtora, por melhor que seja, nunca pode permitir a escolha de um projeto ruim. Assim deveria ser num sistema saudável.
Todo projeto tem de ser avaliado por alguém. É o projeto que deve ser avaliado em primeiro lugar, sempre. Os pareceristas foram um bom passo nesse sentido, a curadoria dos canais idem. Em Hollywood, você pode ser o diretor mais prestigiado, mas ninguém investe sem ler teu roteiro.
O modelo da Coreia é calcado no investimento público, como aqui no Brasil. O modelo privado lá é o mesmo daqui: Netflix, Globo, os grandes conglomerados quando realizam suas próprias produções. Nesses casos, eles têm grande apreço por um projeto bem desenvolvido, quando não têm seus próprios desenvolvedores internos.

MARCIA PARAISO: Não posso falar muito sobre o funcionamento do mercado asiático e como se dá a seleção de projetos por lá. Mas o que percebi ao longo desses 25 anos que trabalho com o audiovisual é que ser diretor e conseguir recursos para nossos projetos que sonhamos filmar é algo para poucos, uma elite intelectual ou econômica, geralmente bem nascidos, bem criados, bem educados formalmente.
E isso em todo o mundo. No Brasil era assim até o ex-ministro Gilberto Gil convidar Orlando Senna para assumir a Secretaria do Audiovisual e montar uma equipe para trabalhar junto que reunia a galera das ABDs, as associações de documentaristas e curta-metragistas organizadas em todo o Brasil, que discutiam, entre outras coisas, como furar o cerco do “ter pedigree”, que incluía também o “de onde você era”.
Muitos editais foram criados, ressaltando a importância do projeto, do texto, do roteiro, abrindo cotas por regiões, criando também oficinas de formação e capacitação por todo o país. Democratizou-se a autoria. Junto a essa mudança de fato revolucionária no acesso aos recursos para o fazer, veio a mudança nos meios, a ascensão do cine digital.
Doctv, Etnodoc, editais voltados para mulheres diretoras, para população negras, para cidades com menos de 10 mil habitantes, havia não só o desejo de mudança no perfil do realizador audiovisual brasileiro, mas ações que vinham ao encontro a essa ideologia. Por outro lado, sempre houve a lacuna da distância entre o realizador e o canal exibidor/distribuição.
Não se pensou politicamente numa distribuição mais acessível a todos — a “programadora Brasil” foi uma tentativa ainda pouco efetiva. Somente em 2011 a Ancine, agencia reguladora do audiovisual, que funcionava desde 2001, se fortaleceu com a aprovação no congresso da lei 12485 – sancionada pela ex-presidenta Dilma Roussef, que estabeleceu um novo marco legal para a TV por assinatura no Brasil, obrigando os canais a exibirem programação brasileira.
Paralelo a isso, ampliou-se o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), recursos administrados pela Ancine e alimentados pelo próprio setor, a partir do pagamento das cotas de Condecine, valores esses pagos pela exibição de filmes em salas de cinema, pela exibição de propaganda, pela exibição de qualquer conteúdo, seja na TV ou em celulares.
Como proponentes, para sermos contemplados pelo FSA, os critérios foram se alterando. Inicialmente, a ideia era de transparência. Tínhamos um número de avaliadores que apresentavam suas avaliações e notas sobre o projeto apresentado.
A ideia é que, somados o potencial criativo com o potencial econômico do projeto proposto, conseguíssemos alcançar a nota para que o investimento fosse liberado. Só que os critérios foram se alterando na medida em que o país sofreu alterações na sua forma e conteúdo democrático, impactando obviamente e consequentemente o setor audiovisual.
Além da paralisação da Ancine, e consequentemente paralisação do FSA pelo Governo Temer, com Bolsonaro ainda estamos sofrendo com o impacto da censura e do silenciamento.
O Artigo 1A, ou Lei do Audiovisual – como é chamada a Lei Rouanet (de renúncia fiscal) no nosso setor – para nós sempre foi bastante inacessível em relação aos critérios de suporte. Geralmente passando pelos departamentos de marketing de grandes empresas, o que se percebe é que somente os que têm “pedigree” ou mesmo recursos para investimento em lobby, conseguem acessar o 1A.
Com a chegada dos canais estrangeiros de VOD (Video on Demand), streaming (esses termos gringos para acessar conteúdo pela internet) – ficamos de fato empolgados com uma nova forma de investimento no setor. No caso, recursos dos próprios canais, sem interferência do estado e sem recursos de origem pública. Mas ainda assistimos à distância como será o funcionamento de fato.
Não se estabeleceu uma linha de comunicação entre os canais e as produtoras de conteúdo e percebemos um número ainda pequeno de produtoras que têm acesso à produção para Netflix, HBO e Amazon Prime. Quase sempre as mesmas produtoras, o que seguramente impacta no resultado, uma menor possibilidade de registro de olhares e de formas do filmar e do pensar os temas abordados.
Os critérios, imagino que sejam os mesmos, há anos utilizados – o achismo em relação ao sentimento do público que está lá do outro lado. O que agrada ao espectador? O que o mantém ali sintonizado? Números + resultados, lucro.
Dessa forma, acho que estamos há anos luz de conseguir viabilizar, seja por recursos estatais ou privados, um projeto como Parasita, que vai no cerne da crítica ao capitalismo. Qual seria o realizador que dialoga com os canais privados que subjetiva tal crítica? Qual seria o canal, o distribuidor, a empresa, que investiria em tal proposta?

LETICIA FRIEDRICH – A iniciativa privada só vai apostar para valer no cinema brasileiro quando comprovar em números o retorno do investimento. Segundo dados da Ancine, nos últimos anos obtivemos um recorde na produção e lançamento de filmes brasileiros, mas só 10% deles passaram da casa dos 100 mil espectadores pagantes.
Dessa forma a conta do investimento versus retorno não fecha. E para se obter maior retorno às produções nacionais é preciso que haja um projeto estatal de difusão do cinema brasileiro.O que temos hoje é uma política de financiamento e difusão sem eixo, sem estratégia e paralisada frente as crises institucionais recorrentes.
O governo precisa entender a potência do audiovisual e o reconhecer como ferramenta de identidade e formação cultural. Esse é um trabalho que governos como o dos EUA (começou a entender isso nos primórdios do início da indústria do cinema), França, Índia, Nigéria e Coreia do Sul fazem e que trouxeram resultados expressivos em sucesso comercial e/ou relevância artística.
Essa política governamental de apoio, subsídio e validação do produto nacional é primordial para atração do investimento privado e isso vale para qualquer setor, não só o audiovisual.
No momento estamos sós, tentando nos validar individualmente, sem base. Assim fica difícil arriscar sozinho e ainda mais atrair parceiros para a empreitada.
O mercado de coprodução com grandes estúdios como Netflix e Amazon pode vir a substituir a coprodução de filmes internacionais com verbas de editais públicos? Se sim, a escolha das narrativas sobre a América Latina será privatizada? Se não substituem o incentivo estatal, como você vê o mercado daqui para frente pós-pandemia?
LETICIA FRIEDRICH: Eu vejo essas novas plataformas de VOD (Video on Demand )como uma nova opção de financiamento para a produção, mas jamais deverá ser um substituto do subsídio governamental. Cultura é nosso patrimônio, é o nosso olhar, o nosso registro e deve continuar a ser apoiada e financiada pelas diversas esferas estatais. Nossa luta por esse direito não pode parar nunca, nem quando o cenário for favorável, pois haverá novas lutas como regulação, proteção de mercado etc.
Diante da crise que o audiovisual brasileiro vem vivendo antes do surgimento da Covid-19, com a inércia e ausência do governo federal em ações para a continuidade e fortalecimento da nossa indústria, e agora agravada pela pandemia com a paralisia das atividades, a existência dessas novas plataformas e a possibilidade de poder financiar novos conteúdos brasileiros através delas chega a ser um alento. E sim, será uma tendência pós pandemia, até porque novas plataformas estão surgindo e se estruturando no Brasil, como a Disney Plus.
Eu acredito que os temas, olhares e narrativas que serão construídos para os projetos para essas plataformas serão bem diversas. A Netflix e a Amazon Prime têm demonstrado através do seus catálogos, dividido em nichos e em formatos, que estão abertas a essa diversidade. Acredito que as demais plataformas seguirão o mesmo caminho.

Como foi o processo de coprodução internacional para a filmagem da série Submersos?
MARCIA PARAÍSO – Foi um processo longo, como são as coproduções. Inicialmente, o projeto de série se chamava Relações Públicas, de autoria do diretor de Córdoba – Argentina, Claudio Rosa.
Conhecemos a produtora executiva Paola Suarez no festival Ventana Sur, que acontece anualmente em Buenos Aires, com uma proposta muito voltada para viabilizar produções e distribuir projetos e filmes, aproximar coprodutores e, com isso, dar um pontapé inicial para que coproduções entre países distintos aconteçam.
Nós já tínhamos coproduzido o Lua em Sagitário com a Argentina, por meio do prêmio Ibermedia, e a ideia de coproduzir uma série de ficção, que se passasse nos dois países, especialmente em cidades que não têm muita visibilidade na tela, como Córdoba e Florianópolis, nos soou muito interessante.
Em uma coprodução internacional essencial, até para a saúde mental dos coprodutores, geralmente pessoas culturalmente distintas e que têm somente no produto audiovisual que desejam realizar o objeto aproximador, definir previamente percentuais de direitos sobre o filme e todas as outras questões jurídico contratuais pertinentes a uma parceria é importante.
No caso de Submersos, condicionamos a coprodução a uma maior participação na criação, até porque, no primeiro tratamento da história, cuja parte brasileira se passava no Rio de Janeiro, não estávamos satisfeitos com o olhar sobre o Brasil e seus personagens.
Com isso acordamos uma roteirização que seria feita meio a meio – de Florianópolis, engajamos o roteirista Glauco Broering na empreitada e, juntos, criamos os nossos personagens.
Como coprodutores, celebramos uma parceria igualitária: 50% para cada parte. Os argentinos, desde o primeiro momento em que nos procuraram, foram contemplados em edital voltado para a produção de conteúdo de Córdoba, mas estavam condicionados a uma coprodução internacional para iniciarem as filmagens.
Nós buscamos por três anos possibilidades de viabilizar a série de 13 episódios de uma hora de duração – e obtivemos parte dos recursos do orçamento por meio do Fundo Setorial do Audiovisual – PRODAV 01. Isso nos possibilitou ter a verba para arcarmos com a filmagem em Florianópolis, mas ainda sem alcançar o montante necessário para a finalização, que foi inteiramente realizada no Brasil.
Após a filmagem e montagem de um programa piloto, conseguimos a parceria da Paramount Channel Brasil, que por meio do uso do artigo 39 da Lei do Audiovisual aportou o montante necessário para que conseguíssemos finalizar a série, além de possibilitar que estreássemos em um canal considerado “prime” no setor.
A filmagem em Florianópolis ocorreu durante cinco semanas e contou com 90% da equipe técnica local, com 42 pessoas contratadas. Tivemos também um elenco com contratação de mais de 80 atores e figurantes de Florianópolis.
Acredito muito no potencial de Santa Catarina como um celeiro de talentos. Temos quatro universidades de formação audiovisual no Estado: UFSC, Unisul, Univali e Unochapecó e ainda duas universidades de formação em cênica: a Udesc e a UFSC.
Infelizmente, o Estado perde muitos desses profissionais aqui formados — diante da ausência de uma política que garanta uma regularidade de recursos para o setor, acabam indo para São Paulo ou outras cidades, com mais oportunidades de trabalho.
Temos aqui paisagens diversas e ainda a tranquilidade de filmarmos em uma capital sem necessitarmos de aparatos de segurança, como em muitas grandes cidades do Brasil. Mesmo sem nenhum apoio da prefeitura da cidade, tivemos o suporte de muitos cidadãos comuns, pessoas que se solidarizaram com a proposta da série e foram parceiros na negociação para utilização de suas casas como locação, cessão de objetos para arte etc.
Além de todo o elenco e da equipe técnica, contratamos ainda assessoria de imprensa, alimentação no set, motoristas, serviços de locação de autos, seguradora, hospedagem em hotel e emitimos bilhetes aéreos – colaborando para o aquecimento da economia como um todo.
Quais polos de produção audiovisual tem gerado conteúdo no mundo atualmente, e quais desses tem recursos públicos?
ALFREDO MANEVY – Todos os polos audiovisuais do planeta possuem dinheiro público. Existe muita mistificação na ideia, por exemplo, de que os EUA não possuem dinheiro público ou regulação. Isso é bobagem, grande desconhecimento histórico da indústria americana, fala de gente mal informada ou deslumbrada.
As film commissions da Califórnia e da Georgia são duas entre dezenas de outras que investem recursos públicos por meio de incentivos ou rebates diretos (devolução de parte do orçamento gasto).
É dinheiro público na veia em todos os países da Europa, nos EUA, China, Austrália, todos. Ao mesmo tempo, os EUA fazem pressão para que países como Brasil desregulamentem suas leis, como o pedido de Trump para Bolsonaro liberar a fusão Warner/ATeT.
Países liberais como Inglaterra possuem fortes sistema públicos de TV, e cota de tela para a produção independente, veja a força internacional das séries e programas da BBC, que é pública.
Mas no Brasil, há um escola intitulada liberal bastante ignorante, que sequer estuda a tradição que reivindica. Mal sabem eles que liberalismo pressupõe ação do Estado.
As film commissions são ótimos mecanismos de fomento local. Além de facilitar filmagens e gravações, podem fomentar por meio de recursos de apoio direto ou indiretos.
Implantamos em São Paulo uma film commission que se tornou a maior do Brasil, trazendo grande retorno pra cidade., por exemplo. O retorno no primeiro ano foi enorme, meio bilhão em investimentos diretos na cidade e mais de 10 mil empregos gerados.
Infelizmente, o atual governo ignora a importância da economia criativa e resolveu transformar ela em inimiga, ao invés de aproveitar os empregos que ela gera. Vivemos por isso um dos piores momentos da relação estado e cultura no Brasil.

Um série com jovens brancos num casarão regado a bebidas: resquícios de um Brasil colônia?
A partir dos pontos de vistas compartilhados por Márcia Paraíso, Alfredo Maney e Leticia Friedrich , fica evidente que a questão econômica é complexa. Seria hipócrita defender uma “arte pela arte” atacando o termo economia criativa, como se faz muito por aí. O termo economia criativa não é liberal. Pode ser usado pelo neoliberalismo para os aproveitadores de plantão. Como se usa o termo inovação para manutenção do status.
Godard afirmou uma vez que cultura é manutenção do status quo, já a arte é a quebra das estruturas que mantêm privilégios. O atual governo pretende quebrar as estruturas de produção, sendo assim um inimigo da indústria nacional. Com certeza queremos apoio para arte por meio da cultura.

Para dar uma dimensão do tamanho do setor, indicadores e estatísticas só podem ser levantados por meio de um sistema de cultura. E um sistema pressupõe que existe uma força econômica. Pode-se falar de “economia da cultura” ao invés de “economia criativa”, reduzindo o escopo, ou aumentando-o com atividades funcionais, como design, moda, gastronomia, eventos.
Mas essa é a questão: o audiovisual está presente no nosso dia a dia. Durante a quarentena, a educação está sendo deslocada para as atividades à distância. É horrível isso! Pior é perceber que mesmo com a constatação de Nelson Pereira dos Santos, de que Santa Catarina tem tudo pra receber coproduções internacionais e produzir aqui mesmo, vemos estarrecidos um seriado como Soltos em Floripa.
Não é a questão de um suposto show de realidade numa mansão. É um estarrecimento sobre como um produto de mercado da TV fechada pode, sem querer, ser mais CULTURAL do que tantas tentativas de cinema ou seriado. Porque cultura é tudo que fazemos. É o que é falado, inventado, repassado como conhecimento, como a língua e suas variações de sotaque.
Apoio cultural para produção audiovisual é a entrada de obras num mercado gigante, que gera renda, cria serviços e toca em temas sensíveis. Por exemplo o seriado Crisálida (SC), que passou por várias etapas de avaliação em editais públicos até chegar ao lançamento. A série, aliás, estreia no Netflix no dia 1º de maio.

Quando se fala em “mais verba para cultura” não é uma afirmação de mais apoio à produção artística. Sem indicadores, não existe critério. A arte porque arte é boa é uma justificativa imprecisa.
Em Santa Catarina, estado mais bolsonarista, a discussão sobre incentivo à arte recai sempre sobre uma consideração moral, ou de valor. A arte europeia é mais importante que a cultura de rua, por exemplo. Por isso uma única orquestra receber verbas milionárias, sem licitação, e poucos centavos para a Cultura Negra, a Cultura Indígena, a Cultura Popular e de Patrimônio.
Dessa forma, Soltos em Floripa insere um novo signo de representação. Sem querer, o seriado que mostra jovens brancos num casarão regado a bebidas com câmeras em todos aposentos, mostra muito mais sobre o Brasil colônia do que uma obra de documentário.
Assistindo ao programa sem moralismo, como um produto na qual o consumidor é levado a acreditar na embalagem, com uma robusta divulgação de mercado, o seriado é intragável. O conflito do título Soltos com o significante Floripa traria de outra forma conotações de uma investigação sobre comportamento de jovens que vivem na Ilha de Santa Catarina.
E não são poucos, é uma cidade que é repleta de jovens, universidades, vida noturna. Mas o Soltos da Amazon são as câmeras de vigilância. Não as pessoas-objetos, não-sujeitos. Escravos.
Na última semana de abril terminou a exibição da edição 2020 do reality Big Brother Brasil, na Rede Globo. Somos o único país do mundo que continua a produzir esse formato, que condensa toda discussão sobre racismo, feminismo, moralidade que se tem por aí.
Não sei opinar pois não assisto. Acho que é tudo de mentira. Na linha de outros produtos da MTV de “realidade”, o Soltos em Floripa é mais de mentira ainda, não só porque os jovens estão confinados, mas porque não estão num LUGAR.

Os jovens têm perfil de empreendedores, influenciadores digitais. Todos têm um plano de vida e sonhos. Representam muito bem o perfil do jovem reacionário ativista de internet.
O lugar citado no título não existe. Não tem um som, um lugarzinho, uma praia de Florianópolis. Tem apenas um trajeto de lancha da Costa da Lagoa para o Centrinho da Lagoa da Conceição, num restaurante. Os “soltos” são mão de obra.
A mansão ilustra a Casa Grande. Os senhores do engenho detêm as câmeras para flertar com fetiches de vê-los transando, exigindo deles corpo de trabalho forçado no restaurante.
Para comentar as cenas, o programa traz outro programa chamado Resenha, com influenciadores e personalidades do circuito de eventos já consolidados, como MC Carol e a cantora Pablo Vittar. As reações de cada acontecimento na casa são condicionadas.

Pablo Vittar é retratada como a persona que dá cara ao show. Tentei entrar em contato com a artista e com a produtora que faz o seriado para perguntar alguns dados, mas não tive nenhuma resposta. Descobri apenas que a dona da produtora foi eleita a mais influente do mercado audiovisual latino. É um poder, digamos, feudal.
A divulgação afirma que é o primeiro reality show do Brasil produzido pela Amazon Prime. A porta de entrada do grande estúdio, que coproduz seriados de ficção brilhantes como Fleabag, de Phoebe Waller-Bridge, na Inglaterra. Ou I Love Dick, nos Estados Unidos. Ou no filme Peterloo, de Mike Leigh.
Tudo bem, comparar Fleabag com Soltos em Floripa é golpe baixo. Mas tem a questão do ROTEIRO. Soltos em Floripa tem um roteiro, mas não tem personalidade. Em Fleabag, o talento absurdo de Phoebe é escancarado, desde a peça de teatro que deu origem à série. Phoebe escreve roteiro de outros seriados como Killing Eve da HBO que não tem o menor pudor de mostrar cada local turístico da Inglaterra, da Europa e da Rússia, em cada sequência. E não é por isso que deixa de ser muito bom de assistir.
Em Atlanta, Donald Glover escreve, dirige e atua, dando nome a um lugar de verdade. E as ações acontecem de fato na cidade, que tem relação histórica com a negritude. São diversos casos de sucesso que usam o nome do lugar para definir um local narrativo.
Já Floripa virou sinônimo de lugar incrivelmente maravilhoso explorado por gente muito ruim de conteúdo. Uma cidade que desde 1989 tem um Fundo de Cinema, e que mesmo com apoio a produções de fora, não investe um real há anos na própria.
Floripa é a sinédoque do Brasil bolsonarista. A Boca do Luxo também é Cultura. E a cultura do Brasil bolsonarista é um show de realidade.
* Pedro MC é cineasta e programador da sessão Cinemática.
