Entrei na montanha-russa pela porta da cozinha. Dos azulejos, um trilho de aço armado se estende até a lavanderia, onde a primeira inversão impulsionada pela velocidade atinge o lançamento mais modesto e passa bem perto da Vanessa, nossa samambaia. A curva acentuada remete de volta à cozinha sobre a pia e o fogão, pegando velocidade no declive para começar a emoção sobre os trilhos em 90 graus que levam o trem para a sala. Quase raspando nas estantes de livros, há o primeiro loop – a energia potencial se torna energia cinética e fica fácil completar o percurso nos dois quartos, loop + loop + loop e volta numa cruzada para a porta da cozinha.
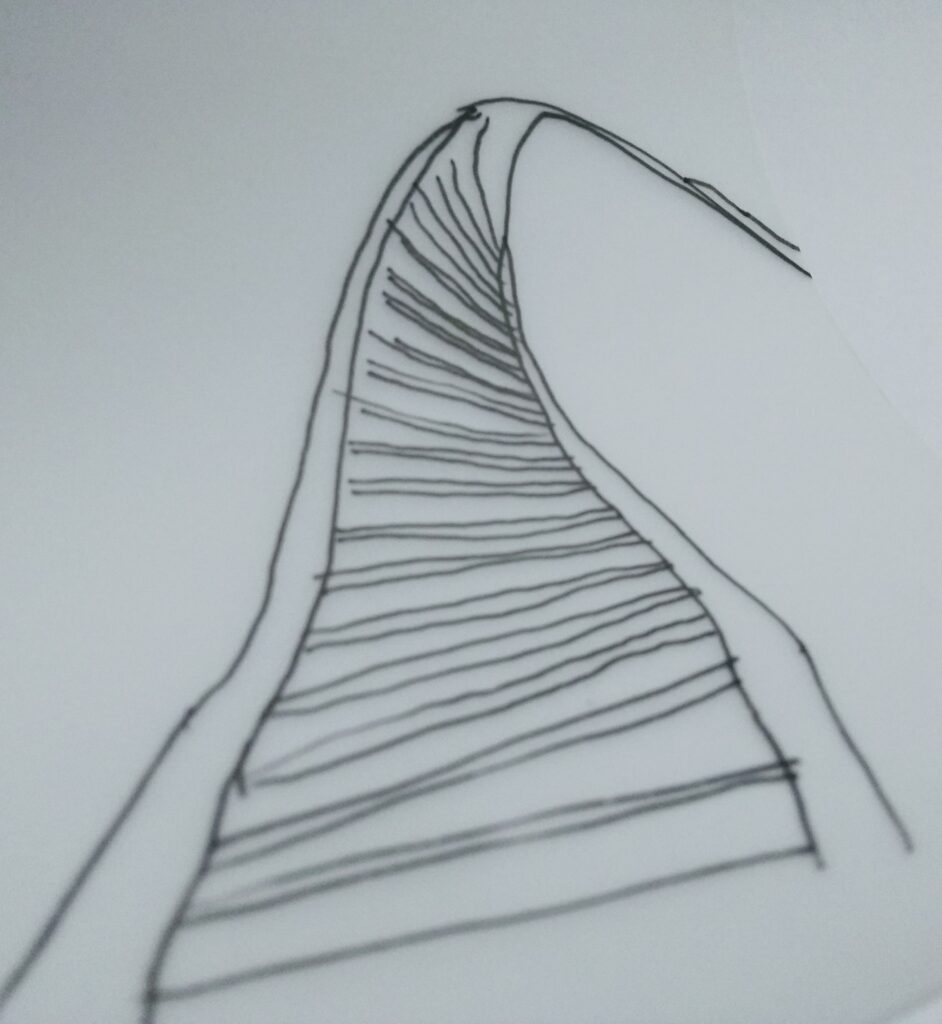
Escrevo como testemunha do meu corpo embarcado no incontrolável da adrenalina ansiosa que é sobreviver, ou melhor, “ir sobrevivendo”, a uma pandemia somada à pior perspectiva política, social e econômica do país, considerada a minha curta existência. A montanha-russa fantasmagórica que tomou a minha casa sou eu. Trilhos, acentuações, subidas e descidas do trem: sou eu. Eu para lá e para cá, durante três meses sem botar a cara no sol, caminhando até furar as pantufas.
*
Na montanha-russa que sou, o que seria aquele medo-adrenalina que se converte em diversão é, na verdade, ansiedade convertida em tristeza, tristeza convertida em ansiedade. Medo eu não tenho, porque ele coexiste em mim há tempos e aprendi a seguir mesmo assim. Mas a tristeza não. Foi uma das surpresas mais lindas da minha vida descobrir que a tristeza nunca foi inerente a quem sou. Hoje ela é sinal, um alerta amigável e sincero: se é tristeza que me pega, algo não vai bem num grau estratosférico. E se eu escondo num compartimento secreto ou finjo que não vejo, ela se instala de um jeito que me faz encaramujar. A tristeza instala em mim uma espécie de motor que mantém funcionando um sistema que sequestra minha fala.
*
Esse motor silencioso impulsiona a montanha-russa em mim. Não quer dizer que me tornei uma alface emudecida e vegetativa, são três meses de confinamento e é claro que eu dancei esquisito na sala, falei bobagem nas videochamadas, eu ri um tanto com as amigas e os amigos e também li poemas e escrevi e revisei textos maravilhosos e estive com gente incrível pela tela do computador. Eu convivi comigo, passei horas na janela, de olho enviesado para a Avenida Hercílio Luz, aguardando pacientemente o amanhecer. Esperei que acordassem os passarinhos das cinco da manhã para que eu habitasse a voz do topo das árvores. Recebi pelos meus ouvidos os bem-te-vis que só aparecem às seis, com quem eu gostei de imaginar rasantes investigativos para descobrir onde mora o galo que teceu o começo dos meus dias de insônia com o seu cacarejar vindo do Morro da Cruz. Teve tudo isso e também fiz pão e arrumei, mais ou menos, os armários.
*
Mas teve muito mais. Tonta das subidas e descidas da montanha-russa do meu peito, faxinei a casa a ponto de passar aspirador de pó nos cabelos da samambaia. A tristeza causa esse tipo de lapso, eu pensei, e a insônia também. Depois disso, eu fiquei lembrando que já tínhamos perdido o Arthur, o antúrio que comprei para o Dennis como presente de fim de resfriado (a gente vibra com pequenas coisas). Perto da Vanessa, a samambaia aspirada, no parapeito da janela o Teco sobrevive bravamente os seus dias de violeta, ainda saudoso do Tico, também morto precocemente. Mas, nos momentos em que meu assento do trem está ao rés-do-chão da parte mais baixa da montanha-russa, é o Snark que me paralisa de culpa, a nossa jiboia com suas folhas de coração sempre à beira da morte, batizada assim por causa do poema do Lewis Carroll. A jiboia-cobra-tubarão evidencia o meu fracasso no cuidado com as plantas.
*
Se eu contar os cactos sedentos e as suculentas drenadas sem querer, a lista aumenta. Mas falo isso porque confio na inteligência vegetal. Se as plantas vão mal, tem coisa muito errada (no caso delas, é elas serem minhas). Mas disse isso porque é evidente que as coisas erradas se manifestam. Esse é o fato. Se as pessoas de um país sofrem e morrem aos milhares todos os dias, tem coisa muito errada nesse país. Quando abandonadas à própria sorte, ou perseguidas, as mortes e o sofrimento manifestam o erro dos erros dos erros de forma explícita: é como quando o controlador do parque inteiro é perverso e, alinhado com a treva em cadeia que lhe presta serviços, numa montanha-russa, por exemplo, corta o cinto de segurança, arranca os trilhos, faz colidir o trem, derruba a estrutura de aço, causa falhas mecânicas de propósito, elimina geral e, da forma mais cínica, ainda se esforça pra conseguir dizer que lamenta. Gente não é número. Um país não é uma montanha-russa.
*
Esse texto não era para ser sobre as plantas da minha casa e nem sobre montanha-russa. Eu queria ter começado contando que me lembrei do experimento vegetal mais extraordinário que vi quando criança: o meu tio fazendo o enxerto de um galho de lima-limão num pé de bergamota. O enxerto é uma operação muito louca, em que se corta um pedaço de uma espécie (no caso a bergamota) e se amarra o pedaço de outra espécie (no caso o galho de lima-limão) bem coladinho nesse corte para que os tecidos das duas plantas se juntem e formem uma planta só com duas partes. Extraordinário, assustador. Eu ia verificar todos os dias se já tinha nascido alguma bergamota-lima-limão, se as folhas tinham se acoplado uma na outra ou se poderia ter alguma evidência mais inusitada, como pequenos espinhos azuis ou caules vermelhos. Mas eu também não queria falar necessariamente da experiência vegetal que nunca esqueci. Nesses três meses, vendo a nossa jiboia Snark, que leva o nome de dois bichos enxertados pelo Lewis Carroll (snake = cobra + shark = tubarão), tudo o que eu queria ter falado neste texto, na verdade, era do que pensei quando li um pequeno excerto do filósofo sul-coreano Byung-Chu lHan.
*
Segundo Byung-Chul Han, a sociedade disciplinar é organizada por espaços de confinamento, como a família, a escola, a prisão, o quartel, a fábrica, e que, como sujeitos disciplinados, a gente passa de um confinamento a outro. (Pensei que então chegamos ao ápice, confinados também em nossas próprias casas). Ele vai dizer que a toupeira seria o bicho da sociedade disciplinar, apropriada para ser produtiva na rigidez, em espaços pré-instalados, mas não é o bicho apropriado para o contexto de vida em rede, de produção imaterial e pós-industrial. Esse contexto, que já estamos vivendo, é mais bem representado pela serpente – o animal da “sociedade neoliberal do controle”, que sucede a sociedade disciplinar. A serpente cria espaço enquanto se move, é projeto e não aceita restrição. A serpente é motivação, otimização, competição e, além disso, assume a culpa e as dívidas “que o regime neoliberal emprega como meio de dominação”. Byung-Chul Han fala que a toupeira seria trabalhadora e a serpente empreendedora. Parece o que vivemos nessa montanha-russa emocional, profissional, digital, educacional, de disputas apressadas em meio ao limbo instaurado pela pandemia de coronavírus: uma espécie de mutação que dá vida a um terceiro bicho, surgido do enxerto da serpente na toupeira. Uma serpeira-toupente. Ou uma toupente-serpeira.
*
Eu sou uma toupente-serpeira enxertada numa montanha-russa. Muita coisa aconteceu nesses três meses. Eu queria que este texto fosse sobre tudo. Ao contrário do corpo, que não pode ocupar o mesmo espaço, as coisas que passam pela minha cabeça podem. Vira um rebu, mas podem, e eu me atrapalho com a ideia de que as coisas existem, por isso não me é estranho que haja uma montanha-russa dentro de mim e que toma a minha casa. Foi atrapalhada que fiquei nesses três meses de confinamento. Foi vivendo os altos (de ansiedade) e os baixos (de tristeza) que tentei fazer a minha parte de privilegiada: ficar em casa, lavar as mãos, me informar e informar quem eu puder, me acolher e acolher quem eu conseguir, contribuir com causas ao meu alcance. Tudo certo, nada resolvido. Minha boca está assim: uma oroboro comendo a própria fala em looping.
*
E meu corpo branco assentado no banco de uma montanha-russa tão distópica e melancólica quanto o parque temático Dismaland, criado por Banksy em 2015, pra que eu vou mentir? Não é alegre, muito menos me deixa num estado calmo, acessar notícias sobre a quantidade diária de mortes por coronavírus no Brasil; sobre a incontestável violência policial, estatal, e de muitos que se consideram gente de bem, contra vidas negras, contra povos indígenas e a favor da devastação da cultura, da arte, das florestas, do clima.
*
Três meses. É só puxar o histórico de navegação para ver que a lista de motivos que entopem a fala, que nos matam devagar e de modo cruel, é imensa. Eu não sou otimista. Nunca fui. Mas já que sou capaz de seguir mesmo com medo, também posso continuar mesmo tonta de tristeza. Há muito que ouvir, há muito a dialogar, há muita gente que tira a própria dor para dançar. Há tanta gente lutando mesmo doendo. Há tanta gente bonita nesse mundo. Há sempre o que fazer, há sempre como enxertar o discurso na prática. Como Banksy, que desativou o parque distópico na Inglaterra e enviou o material para estruturar um campo de refugiados na França.
*
Não sou otimista mesmo. Mas se a gente começar enxertando o que fala naquilo que faz, podemos criar uma chance fala-faz. O motor dessa montanha-russa vai mais devagar, então. Eu não sou otimista, mas também não contem comigo pra dizer a uma criança de cinco anos que o mundo que ela mal começou a viver já acabou (como o mundo de Miguel, levado para a morte). Não consigo. Prefiro continuar dizendo que a gente ainda vai construir junto, tudo-outro, tudo-melhor, sempre que for preciso: a alegria de poder existir, de conseguir respirar, de ser quem a gente é sem medo.
